Os nove pentes d’África – Cidinha da Silva / Ilustrações de Iléa Ferraz – 2009 – Belo Horizonte: Mazza Edições.
18 de outubro de 2020 § Deixe um comentário
Esta história, acho difícil de classificar: literatura infanto-juvenil, novela, conto longo? Prefiro chamá-la de narrativa. É contada por Bárbara, uma jovem de 16 anos, capoeirista e muito mais. A matriz cultural angolana é uma presença no livro, perpassando também na maneira como a família de Bárbara lida com a morte de seu avô, um escultor que construiu nove pentes para deixar de herança para cada um de seus netos e netas. Portanto, a morte em Os nove pentes d’África é vivenciada de uma maneira muito diferente do Ocidente e das regiões ocidentalizadas-colonizadas do mundo. Embora haja dor, a presença do avô fica em cada objeto-arte deixado e em todas as suas histórias contadas. Ficam, agora, no corpo de seus descendentes, criando novas possibilidades para a vida, e portanto, de vivenciar a nossa finitude. O livro é lindamente ilustrado por Iléa Ferraz.
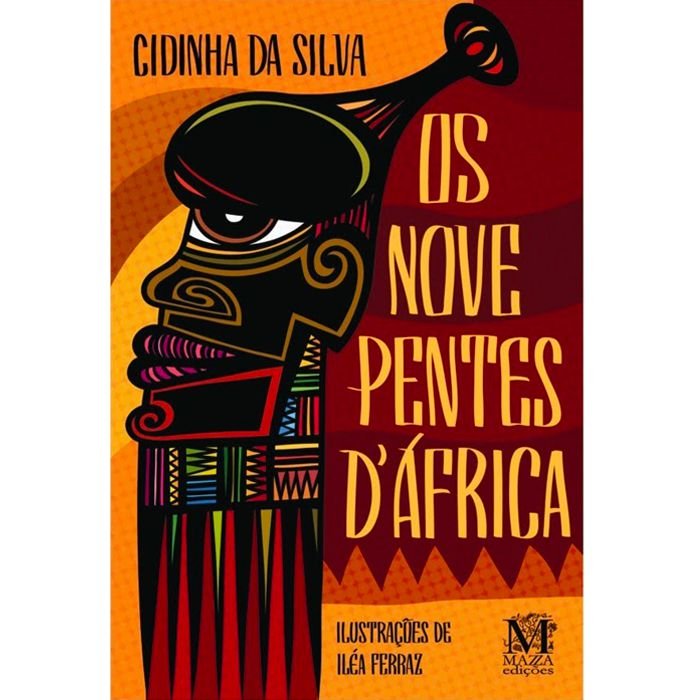
A família de Bárbara, além de ter alguns membros iniciados em uma religião de matriz africana, inclui a existência de uma seita masculina (isto não exclui, de maneira alguma, a centralidade e a força das mulheres na história e na sociedade narrada). Alguns membros da família ganham nomes dos inquices, as divindades cultuadas nessa matriz angola-congo, de mitologia banto, assim como recebem denominações de orixás iorubás, mais conhecidos por quem está mais afeito aos mundo dos candomblés e umbandas. Temos também nomes em tupi-guarani e outros forjados pela criatividade de Cidinha, revelando mais uma vez a sua potência no imaginar e fabular histórias.
O pente era portador de vários significados, principalmente para quem o recebia. Depois era acompanhar o entardecer adorado pelo vô, a hora do sol ir embora. Momento de beber o mistério, em silêncio (p. 9).
Embora narrado por Bárbara e apesar da passagem de vô Francisco enquanto foco, tendo o luto e a sabedoria de vó Francisca realçada, a protagonista mesma da história é a própria família, ou seria a ancestralidade? É uma força agregadora, ensina, mas também diferencia e embebe em luta e embates. As personagens apresentadas por Cidinha da Silva são complexas, fugindo de qualquer estereótipo. Ana Lúcia, umas das primas de Bárbara, portanto herdeira de um pente, desgosta de quase tudo marcadamente de matriz africana: a capoeira da prima, os dreads do irmão, por exemplo. Mas embora Bárbara admita não gostar de Ana Lúcia, sabe: pode até demorar muito, um dia a prima compreenderá o valor de sua história herdada.
Outra mensagem narrada de maneira tão delicada, quase encobrindo a complexidade do assunto, é a percepção da modernidade e da tradição enquanto costuras, e não oposições, ao contrário do pregado pela razão ocidental, ensandecida pelo gosto de classificar e hierarquizar. A família de Bárbara tem profissionais liberais e artistas, gente a encantar o mundo e a explicá-lo. Gente sabedora do poder do mistério, mas também da praticidade e do agir, quando necessário. Tem gente também desorientada, igual ao pai de Bárbara, parecido com um menino.
Essa diversidade atravessa o livro. Depois de vivenciarem o luto de vô Francisco, Neusa e Dinda, filhas do casal original apresentado, sugerem ter toda a arte criada por Francisco abrigada em um museu comunitário, criado por elas. Neusa se inspira em alguns museus vistos nos Estados Unidos, quando por lá morou. O empreendimento é comunitário com razão, apesar de saberem do valor das peças para a família, todas sabem da riqueza advinda do compartilhar desse acervo com outras famílias negras e brasileiras. Contar é partilhar, revelar e ensinar, também o é.
Nove Pentes d’África está eivado de palavras pouco usuais para quem tem parca proximidade com as culturas e histórias africana e afro-brasileira. Isso não deveria ser assim. Afinal, temos uma lei reconhecedora da importância do ensino de outras raízes, para além da matriz cristã e eurocentrada. Por direito, o livro foi selecionado pelo Projeto Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2020, indicado para os sextos e sétimos anos do ensino fundamental, portanto, educadoras e educadores puderam solicitar a obra para receberem gratuitamente em suas escolas (o prazo já expirou). Talvez, assim, mudemos esse desconhecimento. Não é raro encontrar gente leitora capaz de compreender os meandros da literatura russa, japonesa, das confabulações inventadas de diversas literaturas fantásticas, mas impossibilitadas de perceberem a diversidade de matrizes africanas e indígenas encontradas ao seu lado. Uma palavra fora do cânone ocidental e já encontram dificuldade de compreensão. Vai entender… Digo isso pois vi comentários semelhantes, do complicado entendimento de alguns termos e referenciais trabalhados por Cidinha em outro livro, Um Exu em Nova York. É, racismo tem muitas faces mesmo. Há buscadores na internet, enciclopédias virtuais e bons livros para nos auxiliar. Basta buscar, Nei Lopes, por exemplo, com a sua monumental Enciclopédia brasileira da diáspora africana (2011), é uma boa pedida.
Da mesma forma que Cidinha da Silva termina, com o nascimento de Kitembo, o mais novo membro da família, talvez uma referência ao inquice Tempo, o vento forte criador congo-angola, torço para o mesmo acontecer conosco, com muitos novos e novas venham com a força de Bárbara, Cidinha, Francisco e muito mais. Vamos precisar se quisermos manter a qualidade de humano para as coisas que fazemos.
Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas – Bruna Kalil Othero – 2019 – Belo Horizonte: Letramento.
27 de junho de 2020 § Deixe um comentário
Você deve ter visto a figura por aí. Um cara branco de barba estilosa. Usa roupas confortáveis e despojadas até, mas você só consegue enxergá-lo vestido de terno e gravata borboleta. Não importa se use cuecas coloridas e arejadas, parece sempre estar de ceroulas.

O cara tem uma fixação: Europa. EUA. Essas coisas que têm manias de Império. Faz de tudo para ser para frente, aberto para a diferença. Se diz antifascista e às vezes, antirracista. Mas tem medo de que a pauta contra o racismo sequestre a sua contra o… Ele nem sabe. Esse cara vai sempre falar das artes, esculturas, dos museus bolorentos. Quando ele quiser ser moderninho vai comentar do postrockundergroundpostpunkposthumanitypostfuck. Vai te convencer a assistir a uns filmes filmados por smartphone sem trilha sonora. É pra ouvir com a alma. Esse é o cara também que acha a cerveja não artesanal um saco, coisa deveras popular e vai fazer de tudo para você mudar de vida e largar essas porcarias industrializadas. Esse cara não vai se vestir de verde e amarelo, nem fazer manifestação a favor do Bolsonaro. É que ele não precisa nem se vestir de nada, o apoio já está no corpo.
Esse é o chato, atulhado, que Oswald de Andrade combateu. Ele pode nos atravessar às vezes, mas se você o vêr dentro de si, mate-o. Uma boa forma de fazer isso é dançando um bom funk e ler esse livro da Bruna Kalil. Se conseguir os dois ao mesmo tempo, parabéns. São poemas que em seu conjunto nos falam do cânone, aliás, transa com o cânone. Eu até pensei numa transa com o Manuel Bandeira, meu cânone de Platão. Opa, plantão. Aliás, nem precisei ler o livro para pensar nisso. Sempre estou sentindo o Manuel com alguma sensualidade.
Ao longo da poesia de Bruna Kalil a gente escuta o fardo de tantos versos já passados e dança com a coragem de dizer algo novo. Que de novo não tem tudo, mas tem alguma coisa. Aliás, o livro foi premiado pelo finado Ministério da Cultura. Em razão da comemoração dos cem anos da longa semana de 1922.
A poesia de Bruna faz com que os artistas modernistas de 22 nos olhem com força. Eles estão nos julgando. Então foi esta merda que vocês viraram? Não extinguiram ainda os europete, os hot-dog? Ainda fazem arte mirando uma brancura de olhos azuis? Permanece o medo. A raiva. O ódio a tudo que faz Brasil Brasil. Permanece a vergonha de ser país de nações indígenas. Odeia-se o fato de ter existido escravidão por aqui. Não pela tragédia e absurdos existentes nesse projeto de genocídio, mas justamente pela resistência negro-africana e pelas suas marcas incontornáveis por todo esse país continental. O 22 do passado se encontra com o 22 por vir e o efeito é explosivo.
E se tem até escritor e escritora alegando que temos liberdade de pensamento e expressão e por isso não é condenável ter votado num sujeito que defende tortura, estupro, racismo, genocídio e tudo o que não presta nesse mundo, o que diriam a literatura de 22, as artes plásticas de lá, a respeito desse Buraco que o brasil se enfiou?
Se você quer sentir, talvez seja bom passar pela experiência de ler esse livro. Mas duma vez, numa sentada. Ou deitada. Li na rede, embalado pelo calorão dos trópicos. Você vai se convencer de que a vanguarda que nos restou foi a militar, de velhos babões reformados. As grandes editoras, aquelas que publicam os caras que mesmo de havaianas parecem estar usando terno, essas mesmas é que perderam o fio da meada. Ainda bem que temos batalhões, miríades e mais miríades, uma ruma, um bocado de gente escrevendo fora dessa curva, desse padrão conivente com a caretice, o fascismo e o racismo que defende liberdade de expressão fazendo bilhetinho para protestar contra o absurdo. Na poesia da Bruna podemos aprender que não se combate com notas, mas com poesia. Aí é barra pesada. Pode fazer o teste, passe – digitalmente, respeite a quarentena e o isolamento social, se possível, por favor – com esse livro na frente de qualquer bolsonarista, leia um poema aleatório do livro. Perceba como ele vai babar. Talvez possa até rosnar e lhe morder, mas acho difícil, tem certo tipo de poesia que causa morte imediata para mentes engaioladas. Esses versos, por exemplo. Fazem. E nem vou comentar o título do livro que ele já diz muito. Quase tudo.
Contra a realidade social, vestida e opressora
– Oswald de Andradeguardar as genitais dentro das ceroulas.
guardar a buceta dentro da tanga minúscula.
guardar o cu trancado a sete chaves.
(ou mais, se for preciso.)agora, o pau, senhoras e senhores,
o grandíssimo pau,
o pau maioral,
o pau imoral,
o pau caralhal,
o pau abissal,
esse a gente vai enfiar dentro da sua boca
pra sempre.
Coração na aldeia, pés no mundo – Auritha Tabajara – 2018 – Lorena, SP: UK’A Editorial.
27 de maio de 2020 § Deixe um comentário
Esse é um livro diferente. E espero que muitos outros livros assim sejam escritos, publicados e lidos. Não é pouca coisa não. O livro que tenho em mãos, e tenho esperança que muitas pessoas façam o mesmo, é de uma autora que nasceu no Ceará, em uma aldeia. Sim, ela nasceu na aldeia da nação e povo Tabajara. Essa nação compartilha espaço com encantados e outros parentes de diversas outras nações, também no Ceará (Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potiguara, Tapeba, Tapuia-Kariri, Tremembé, Tubiba-Tapuia, Tupinambá, ainda podendo existir muitas outras, sem contar que nem citei as comunidades quilombolas aqui). Nações que enfrentam o racismo ambiental e institucional, a invasão e apropriação frequente de suas terras e muito mais. Viver, para essas coletividades, é perigoso. Então, quando vemos publicado um livro em forma de cordel, todo rimado em sextetos septissílabos, em uma editora indígena, coordenada pelo mestre da literatura Daniel Munduruku e escrito por uma mulher Tabajara, não é coisa pouca. Infelizmente, ainda não é algo comum, e quando acontece merece celebração. Além do mais temos a obrigação (ao menos por convicção) de incentivar esse tipo de obra. Brasileiro que não sabe de quem estava aqui antes, e cá continua e persiste, deveria se envergonhar. Vamos lá. Auritha Tabajara, ou Ita (que em tupi é pedra), foi registrada por outro nome, como ela nos narra:
Mas, para se registrar,
Seguiu a modernidade
Com o nome de Francisca,
Pois, para a sociedade,
Fêmea tem nome de santa
Padroeira da cidade.
O cordel, ricamente ilustrado com as xilogravuras da Regina Drozina, traz a história de uma princesa, mas não mais aquelas princesas da mitologia do cordel, e sim da própria Auritha. A protagonista-eu-lírico, quando adolescente, foi explorada por pessoas da cidade grande (Fortaleza), hábito que a maioria dos cearenses ainda têm na memória, e muitos sem se envergonhar. Era e ainda é muito comum uma família “pegar” (sequestrar) uma criança em situação de vulnerabilidade para “cuidar”, e essa criança não dificilmente era indígena ou quilombola, e quase todas, meninas. Essa criança teria um lar, comida e às vezes até poderia estudar, desde que servisse seus patrões com trabalhos domésticos. Isso desembocava frequentemente em outros tipos de violação. Mas a heroína consegue escapar e volta para a sua aldeia. Se apaixona, casa, tem filhos, divorcia, vai para São Paulo. Briga com o marido, tem uma disputa judicial com ele, perde a guarda de suas filhas e depois consegue recuperá-las. Enfim, logo descobrimos que temos em mãos uma história contemporânea de uma Tabajara que mora em São Paulo, mas não esquece a sua aldeia, sonha com as ervas e prepara seus remédios: é uma excelente mezinheira, inspirada pela avó. Além disso, sempre foi uma criança que rimava tudo, inspirada pela natureza e o que a circundava.

Auritha Tabajara renova o cordel. Se essa literatura já havia sido apropriada pelas culturas populares brasileiras, fazendo circular histórias, mitos e lendas, adaptando grandes obras da literatura para os versos ritmados e rimados, o movimento que engloba Auritha e outras mulheres, tais como a Jarid Arraes, rejuvenesce essa literatura e a reveste com novas lutas e histórias. As mulheres sempre estiveram no cordel e na sua produção, mas foram soterradas pelo machismo. Esperamos que com Auritha e tantas outras isso mude. Que com Aurtitha venham mais cordelistas Tabajara e de tantas outras nações indígenas e quilombolas, conectadas, para citar o mestre quilombola Antônio Bispo dos Santos, pela confluência quilombo, favela, terreiro, aldeia. Ele sempre nos diz que quando isso acontecer, o asfalto vai derreter.
Tem mais. Coração na aldeia, pés no mundo levanta uma discussão importante. Por muito tempo se entendeu que o indígena (uso esse termo genérico apenas para simplificar, mas o ideal seria utilizar o nome da própria nação em questão) deixa de ser quem é se sair da sua aldeia. Esse tipo de reducionismo da identidade indígena ainda perdura em nossos dias.
Ora, a prioridade sempre vai ser na conquista de suas terras, que lhe são garantidas por direito. Entretanto, como a todo mundo, não se pode negar o direito de locomoção dessas pessoas. Sabemos que isso acontece mais por razão da desigualdade social, econômica e pelo colonialismo/racismo que assola a relação que os brasileiros têm com as nações indígenas. Portanto, por causa da violência e desigualdade muitas famílias indígenas, ou indivíduos sozinhos (sabemos que eles não vão sozinhos, e que levam parte de sua cosmologia com eles) acabam se mudando para cidades, com esperança de terem uma melhoria de vida. Não é raro dessa melhora não acontecer. Além de passar por situações difíceis na cidade, vários indígenas têm que vivenciar o preconceito, de terem suas identidades questionadas pelo simples fato de existirem e resistirem na cidade.
Auritha narra:
Vivo na cidade grande,
Mas não esqueço o que sei.
Difícil é viver aqui,
Por tudo que já passei.
Coração bom permanece;
A essência fortalece
Ante ao pranto que chorei.
Na aldeia, na cidade e em qualquer lugar os povos indígenas devem ser respeitados. Estamos morando em suas terras, pisando em solo que já têm donos, tanto humanos, quanto entidades mais-que-humanas que pajés, mezinheiras, rezadeiras e benzedeiras demonstram serem muito mais do que lendas e folclore. São e isso sim, vida. Vida longa para Auritha Tabajara, ao povo Tabajara e todas as encantarias cordelísticas.
[1] Conheça Daniel Munduruku e a UK’A editorial.
[2] Conheci Auritha Tabajara por conta da macuxi Julie Dorrico, que é doutoranda em literatura. Ela também organiza os perfis @leiaautoresindigenas e @leiamulheresindigenas.
[3] Compre o livro de Auritha Tabajara! Nesse contexto de pandemia é super importante. Já era necessário em uma situação normal, imagine agora. Você pode contatar a autora pelo Instagram ou Facebook.
[4] Minha amiga Luciana Marinho é antropóloga e sua tese foi sobre povos indígenas na cidade, mais especificamente em Boa Vista. As nações que aparecem na tese são os Macuxi e Wapichana. Vale consultar:
Melo, Luciana Marinho de. Povos Indígenas na cidade de Boa Vista: Estratégias identitárias e demandas políticas em contexto urbano. Tese de Doutorado (Antropologia Social), Belém: Universidade Federal do Pará, 2018.
Belhell – Edyr Augusto – 2019 – São Paulo: Boitempo.
16 de maio de 2020 § Deixe um comentário
 Ainda não li todos os livros de Edyr Augusto, mas quero. Já caminhei com os romances Pssica (2015), Belhell e Selva de concreto (2012, novela? conto? romance?). Um sol para cada um (2008), livro de contos, transforma seu estilo da prosa longa para a curtinha e funciona. Já Navio dos cabeludos (1985), primeiro livro publicado do escritor paraense, que não por coincidência, é de poesia, é um barato.
Ainda não li todos os livros de Edyr Augusto, mas quero. Já caminhei com os romances Pssica (2015), Belhell e Selva de concreto (2012, novela? conto? romance?). Um sol para cada um (2008), livro de contos, transforma seu estilo da prosa longa para a curtinha e funciona. Já Navio dos cabeludos (1985), primeiro livro publicado do escritor paraense, que não por coincidência, é de poesia, é um barato.
Quem se aventurar em Belhell vai poder apreciar a proposta de um autor que se preocupa com o ritmo e a cadência da palavra, sem abrir mão de uma boa história. Portanto, meus amigos, temos em Edyr Augusto enredo e linguagem, e isso deixa os seus livros com um gosto especial para os olhos e ouvidos.
Pssica já vai virar filme. Os direitos foram comprados por Kiko Meirelles, filho de Flávio Meirelles. Mas quem for esperar a estreia do escritor nas telonas pode se dar mal. Não duvido da capacidade adaptativa de ninguém, mas desconfio muito que seja possível transmutar para o cinema o tratamento com as palavras e o manejo poético de Edyr. Que consiga trazer a ação, as reviravoltas e o espírito investigativo das personagens, que de glamorosas nada têm de tão reais, isto já é bem possível.
Belhell tem as características que consagraram Edyr. É curto, frenético e intenso. Violento, como a cidade que lhe rende as personagens, enredo e inspiração. O livro é desgracento, não traz descanso para as personagens e mostra como as pessoas acometidas e inseridas em um universo de violência e privação simplesmente têm que agir, sobreviver, e quem sabe até viver. A sinopse do livro pode ser contada de muitas maneiras, lá vai uma: um escritor começa a chafurdar o mundo dos cassinos de Belém. Incomoda o mandachuva, que intercede e manda raptar o escritor. Conversa vai, conversa vem, o mandachuva acaba sendo convencido a contar a sua história de ascensão ao submundo de Belém. Medicina. Tráfico. Assassinato. Assassino em série. Banditismo & Pistolagem. Prostituição. Desigualdade social. São palavras que revestem o panorama da obra.
Gio chamou um táxi. Levava Adriana no colo, todo orgulhoso. Por que esse nome, Adriana? É alguma parente tua? Tua mãe? Tem uma atriz na TV Record? Não, Globo. Vale a pena ver de novo, de tarde. Adriana Esteves. Acho que sei, mas poxa, Zá, ela faz uma mulher malvada… Eu sei. Sei muito bem. E então? É Adriana, tá?
As personagens querem crescer, ganhar dinheiro e poder, única maneira de pararem de serem exploradas nesse mundo cão e passarem justamente a explorar o próximo. Para isso, matam, seduzem, enganam e cheiram muita cocaína para aguentar as jornadas dobradas de trabalho. Dentro dessa violência enredada, de pessoas que se cruzam e entram em conflito, fodem e matam entre si, ainda encontramos as referências ao mundo cultural, político e também superficial (no sentido mesmo de primeira camada) de Belém. Clubes sociais, concursos de beleza falidos, boates tocando medoly e tecnobrega, enfim, um marsupial de gente contando uma história instigante.
Acredito que a maioria já não tem paciência para ler mais um romance que conta as peripécias de um escritor, homem e provavelmente branco. Mas tem um porém de força. O escritor aqui é um instrumento, um elemento intermediário entre a Belém diurna, moralizada, católica e tropical, e a Belém noturna, alucinada, degolada, de vísceras expostas. O escritor quase não interfere: viciado em coca zero, perambula pelos inferninhos, cassinos e trilha de pessoas destruídas pelo craque. É o escritor quem vai ouvir as histórias de Bronco, um cabeção dos cassinos ilegais da cidade. Não está explícito se a narrativa que lemos foi um apanhado do que ele ouviu, reconstituindo já em livro. De qualquer forma, essa dúvida nos move pela leitura e desperta curiosidade. Aliás, sempre queremos saber mais e mais das personagens, nunca tanto a respeito do intermediário que perpassa essas situações.
Desde que conheci a prosa e poética do Edyr tenho sido um membro da seita, talvez modesta de seus admiradores (quase certeza de que ele é mais lido no estrangeiro do que aqui mesmo) e quando posso, divulgo, falo para as pessoas lerem e comprarem seus livros. Aconselho mesmo que você, pessoa leitora que curte literatura brasileira contemporânea, que se ainda não conhece a obra desse escritor inventivo (o menino se aventura no teatro, contos, crônicas e poesias…), corre lá. E o mais importante, espero que lendo Edyr, o público busque outros autores e autoras do Pará, esse estado gigante e imenso que me acolheu tão bem. Basta procurar, minha gente, não tem mais desculpa não, os nomes estão aí, por todo lado, rabiscando o mundo inteiro.
Atenção! O Coletivo Discórdia vai fazer uma live hoje de seu Clube de Leitura. O livro é Belhell e vai contar com a presença do autor!
Velhos – Alê Motta – 2020 – São Paulo: Reformatório.
5 de maio de 2020 § 2 Comentários
Velhos. Corpos curvados e que têm cheiro. Corpos frágeis mas também fortificados. Velhos que amam, são humanos. Não são? Aliás, isto nem deveria estar em questão. Alê Motta em sua literatura diz e mostra: velhos são gente, velhos são vida, velhos não são pessoas bomba-relógio prestes a explodirem. Ela vai além. Mostra que tem muito velho escroto por aí. Ora, mas é óbvio, eles são humanos, já aprendemos isso com Alê.
Velhos é um livro de contos curtíssimos, curtinhos e curtos. Eles condensam a informação e a narração, Motta espreme o miolo até ficar só o essencial. O excesso vai embora, mas não se enganem, pessoal, os contos de Velhos não são uma dieta bem balanceada não. Você pode infartar com a menor história. Quem ainda acha que tamanho do livro é documento, não entendeu foi nada de literatura. Nem aprendeu com a força do pequeno e intenso no conto. Alê ensina.
Não aprende quem não quer. Aliás, tem muita gente que se diz leitora e não gosta de conto. Ah, não consigo me envolver com as personagens. Ui, não tem como amar uma história curta, prefiro um romance para ficar um montão de tempo namorando as personagens, curtindo o enredo e a enrolação toda. Tudo bem, há quem goste de sofrer. Prefiro o deleite do bem trabalhado, do conto urdido de maneira esplêndida. Alê mostra.
Outra coisa. Tem ditador de regra na narrativa curta também. Não é apenas na política que essas figuras existem. Se o conto intenso e condensado é deleite, para os regentes das regras ele tem que está repleto de ação, reviravolta, de eitas. Equívoco. Dos mais grosseiros.Quem disse que o conto tem que vir pingando de sangue, ou papocar nas nossas mãos? Ele pode ser um bicho de pé, que você nem enxerga, e quando deu fé, já está lá instalado em sua pele. Nem todos os contos de Alê trazem grandes revelações, as histórias aqui não perdem em intensidade quando mergulham no implícito. O romance pode até ser mais hercúleo para ler, mas passar os olhos em uma narrativa curta e já pular para a seguinte é no mínimo covardia. Medo de ficar mais tempo em águas rasas. (Não tinha um filme vagabundo onde um tubarão fantasma saia de dentro de um balde? Na menor água, pode ter o maior perigo, bicho). Alê demonstra.
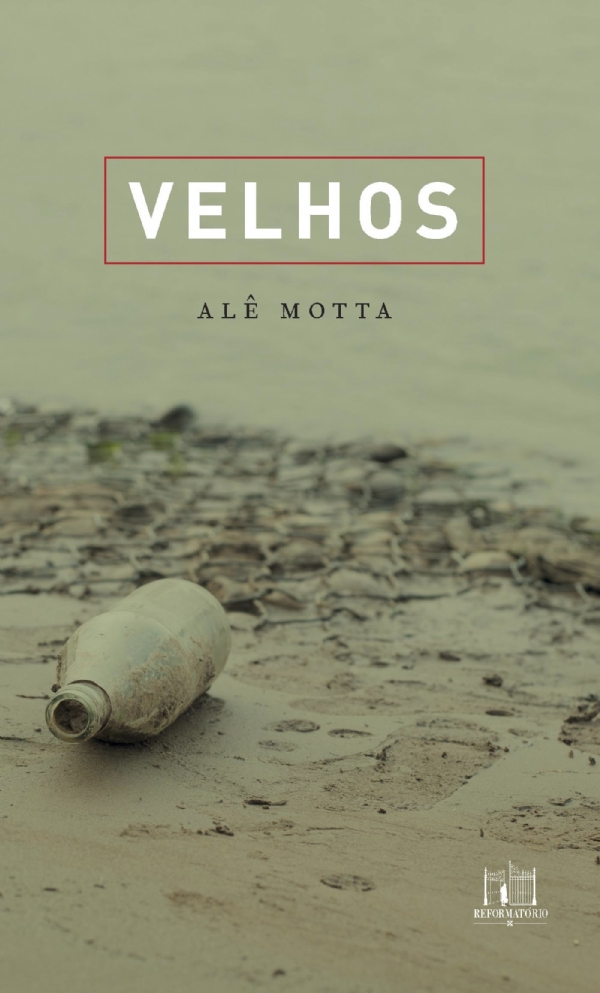
Herança, conto que abre Velhos, é uma lição de escrita e vida. Você fica com raiva de uma personagem, achando que ela se parece com aquele seu tiozão idoso que é pobre e faz parte de alguma minoria, mas que odeia todas as minorias e os pobres. Mas logo descobrimos que estamos profundamente enganados, não é por conta de uma personagem ser decrépita e ridícula que a sua maldade não se espalhará entre os mocinhos da história. Crueldade contagia, ninguém está imune disso. Alê sabe.
Tem um conto que um velhinho usa o Tinder, come kit-kat e vai se aventurar no amor. O neto dele ensinou a parte do aplicativo de namoro e do chocolate, já o amor, acho que ele aprendeu com a vida mesmo. Em outro conto um senhor é perseguido por ser negro e estar correndo na rua. Ninguém se desculpa por isso. Temos contos com velhinhos e velhinhas que querem se matar, que acabam se esquecendo do que vão fazer. Personagens que querem amar, que foram filmados e tiveram esses vídeos postados na internet, em situações complicadas, e acabam tirando vantagem disso. Enfim, é um mosaico de velhos. Mas pra quê tanto tipo de véi? Alê nos mostra que envelhecer deveria ser o normal, e portanto, velho é múltiplo. Alê tem propriedade.
Não vou ficar falando de todos os contos, tem história para todos os gostos (aliás, quase, né? Ninguém agrada a todo mundo e se agrada deve ter algo de errado nisso). O livro me pegou de jeito, e ele sai quando o mundo está falando da velhice, de maneira estereotipada mais uma vez, ou com certo cuidado. Velhos pode ensinar muito sobre nós mesmos, sobre o mundo e a vida. Alê é generosa.

